 |
| A foto é da Geci Prates, que já encantou. À ela, meu amor. |
Eu tinha 20 anos quando comecei a trabalhar na TV. Foi em Caxias do Sul, uma cidade de porte médio. Ainda assim, em pouco tempo percebi que a gente, que aparecia na telinha, era uma espécie de celebridade. As pessoas nos tratavam de maneira diferente. Nas lojas, nos restaurantes, na igreja. Lembro que a cada estação, a empresa de malhas Petenatti, mandava sua coleção de presente e as vinícolas – dezenas delas – mandavam caixas de vinhos nas festas especiais. No começo eu achava bem bacana. Não compreendia ainda que aquilo era só uma maneira – nada sutil – de comprar nossa simpatia.
Mas, o bom é que eu sempre fui uma pessoa pensante, e comecei a ruminar sobre aquilo. E foi justamente a elite empresarial de Bento Gonçalves que me fez ver com clareza o que aqueles pequenos presentes representavam. Como Bento ficava na região de abrangência da TV Caxias a gente sempre ia lá cobrir o almoço semanal dos empresários. Era um rega-bofe chique que terminava com a gente fazendo entrevistas com o maior número deles, falando sobre seus negócios. Era, na verdade, uma das matérias 365, código que dávamos para matérias que não tinham interesse público, que eram propaganda travestida de jornalismo. Aquilo incomodava, mas tínhamos de fazer.
O almoço era servido numa mesa grande e uma das laterais era reservada aos jornalistas. Com o tempo fui observando que era sempre a mesma coisa. Os jornalistas ficavam bem longe do centro, no finalzinho da mesa, servidos por último. E, tantas
vezes surpreendi um olhar de desprezo por parte dos empresários, como se fôssemos gente menor, um desprezo que também via no olhar dos garçons. Eram trabalhadores como nós e agiam como os chefes. Fui pegando nojo daquilo. A partir daí comecei a atrasar a saída de Caxias deliberadamente para não chegar a tempo do almoço, para não participar daquela humilhação. Aí, a gente chegava no final, fazia as entrevistas e ia comer xisburguer num boteco perto da Associação Comercial. Eram nossos melhores almoços. Comecei então a ter noção de que os “presentinhos” eram a moeda para comprar nossa vassalagem.
Naqueles dias eu era jovem e pensava que o mundo girava em torno de mim. Por sorte sempre fui curiosa e gostei de estudar. E foram os livros que me salvaram. Os livros e as relações que fui construindo com os trabalhadores. Tinha uma trabalhadora, em particular, que muito me ensinou: a Geci Prates. Era presidente do Sindicatos dos Trabalhadores Gráficos e chegou a ser candidata a prefeita pelo PT naqueles anos 80, quando o PT era a novidade alvissareira para os trabalhadores. Que mulher. Penso que ela nunca soube o tanto que transformou minha vida. A partir dela fui descortinando o mundo dos trabalhadores em Caxias do Sul, um mundo escondido e fora dos holofotes da mídia. E, desde ali, parei de ser idiota e comecei a forjar a pessoa que sou. Então, mesmo dentro da RBS – que era a maior rede comercial do estado – comecei a abrir espaço para as lutas dos trabalhadores. Nunca mais pude aceitar um presente de quem quer que fosse, porque entendia ali a intenção.
Essa postura virou uma regra de ouro para mim. Nenhum presente, nenhum almocinho nas beiradas de mesa, nenhum deslumbramento com o fato de o prefeito, o governador ou mesmo o presidente saber meu nome. Eles não sabem nosso nome porque nos querem bem. Eles sabem nosso nome enquanto estivermos enquadrados na empresa que lhes serve. O jornalista-marca, como muito bem já definiu a professora Roseméri Laurindo no seu livro “As três dimensões do jornalismo”. O jornalista que só é, enquanto empregado da rede famosa, do jornal famoso. Quando perde o emprego e vira uma pessoa sem marca, deixa de ser incensado pelos que estão no poder.
Isso tudo é para dizer que sinto uma profunda indignação quando vejo os jornalistas se abaixarem para a classe dominante acreditando fazer parte do banquete. Não fazem. Estarão sempre na beirada da mesa, sofrendo os olhares de desprezo. Nossa função como jornalista é apurar a crítica, desvelar o escondido, expor as feridas. Doa a quem doer. Fazer jornalismo é ser capaz informar e formar a opinião pública sobre o que corta a carne da maioria, e para isso temos de perder a ilusão de que somos especiais. Não somos. Somos parte do exército de trabalhadores que vive sob a exploração do capital. E, como tal, nossa obrigação é narrar o mundo desde o nosso lugar.
Comungar com o poder que nos oprime é um erro. Um triste e irreparável erro.







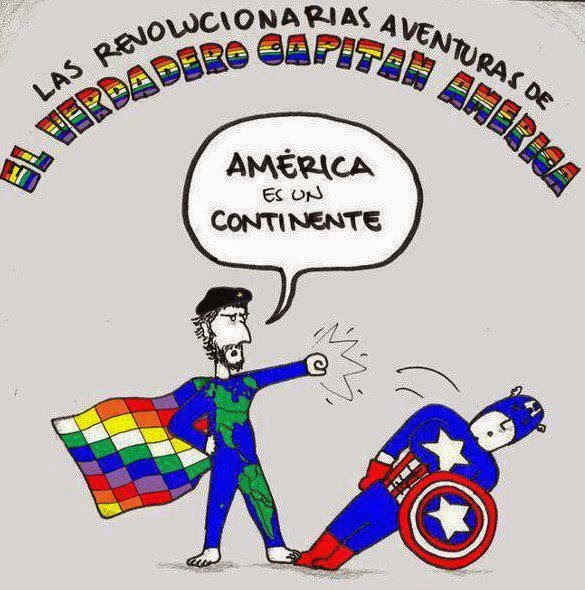











Nenhum comentário:
Postar um comentário